Título original: The Grand Budapest Hotel 
Origem: EUA / Alemanha
Diretor: Wes Anderson
Roteiro: Wes Anderson, Hugo Guiness, Stephan Zweig
Com: Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Bill Murray, Owen Wilson, F. Murray Abraham, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Jude Law, Mathieu Amalric, Léa Seydoux
Há algum tempo que Wes Anderson vem encantando cinéfilos do mundo inteiro com seu estilo particular, que mistura o surreal e o real de maneira tão criativa e inteligente.
Desde seu primeiro longa-metragem Rushmore (1998) até seu maior sucesso de bilheteria, Moonrise Kingdom (2012) – leia a crítica aqui, o diretor texano vem incorporando a cada filme novas técnicas cinematográficas e consolidando, assim, seu estilo descontraído e leve de contar histórias.
Com cenários exóticos e artificiais, praticamente saídos de filmes de animação ou mesmo de livros de pop-up, travellings laterais, zooms apressados contrastados com planos fixos, além de cores fortes ou, ao contrário, bem desbotadas, Anderson parece conseguir, com sua poética, conduzir o espectador a refletir sobre temas sensíveis e sérios de maneira bem humorada e despretensiosa.
Com um quase sempre quê de nostalgia e trabalhando muito sobre o tema “família”, um certo ar retrô paira sobre a obra do cineasta, que acaba por assim enaltecer uma beleza qualquer perdida lá atrás. O que não nos impede, no entanto, de apreciar e analisar o presente. Ao contrário. E desta vez, no seu mais recente The Grand Budapest Hotel, ele ainda acrescentou a História (com H maiúsculo) à sua ficção, adicionando realidade ao seu mundo fantasioso, em que nem o céu é o limite.
O resultado dessa nova experiência é um filme absolutamente encantador, divertido, inteligente, sensível e original, que, por meio de um olhar estético apurado e de um trabalho meticuloso de cineasta-artesão, analisa e critica um período dramático em nossa História.
Inspirado na obra do escritor austríaco Stephan Zweig, The Grand Budapest Hotel conta em flashback a história do concierge Monsieur Gustav H. (um Ralph Fiennes absolutamente espetacular) e de seu lobby-boy Zero Mustafa (o também excelente estreante Tony Revolori), um órfão, refugiado de guerra.
A trama se passa em um país fictício do leste europeu, Zubrowka, no fim dos anos 1930, época de ascensão do nazismo (aqui o SS foi substituído pelo ZZ), e tem como cenário principal o próprio Grand Budapest Hotel, um paraíso perdido no meio das montanhas geladas. É lá que Monsieur Gustav vive suas aventuras amorosas com damas “de certa idade”, oferecendo-lhes momentos de puro prazer, calor e alegria. Entre elas está a milionária Madame D, personagem octogenária de Tilda Swinton, que será assassinada logo no começo do filme, deixando-lhe de herança um quadro de grande valor, para desespero de sua família de urubus ávidos por dinheiro. Amedrontado pela reação dos familiares de sua amada e com o apoio total de seu fiel escudeiro Zero, ele decide roubar o quadro (que é seu) e escondê-lo no hotel.
A partir daí é dada a largada para uma história rocambolesca com traços hitchcockianos e, ainda com algumas pitadas de James Bond, como na fantástica sequência de perseguição de esqui, em que eles tentam alcançar o vilão-matador interpretado por Willem Dafoe. Um personagem frio, cruel, assustador, que quase não fala, mas age sem dó nem piedade.
O filme, aliás, reúne um elenco de primeira linha, em que, curiosamente, excelentes atores têm papéis pequenos, com poucas falas e poucas cenas, o grande show ficando mesmo a cargo de Ralph Fiennes com seu divertido, sensível, sofisticado e malandro de alma pura, Monsieur Gustav. Sua afeição pelo lobby-boy Zero é comovente e proporciona alguns momentos mais densos na história como os das duas sequências em que os guardas de fronteiras vêm checar os documentos dos passageiros no trem.
Com bom ritmo, boa trilha e excelente montagem, The Grand Budapest Hotel, representa um paraíso perdido no meio da guerra, um fiapo de esperança na raça humana, uma sátira que mostra-nos que, mesmo em um contexto de inimizades e de atrocidades, ainda é possível deixar florescer uma bela amizade, conservando a bondade no coração.
Um filme PRA SE DIVERTIR.







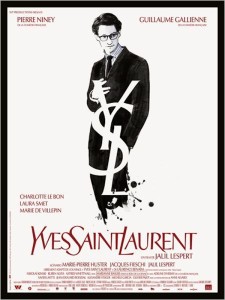
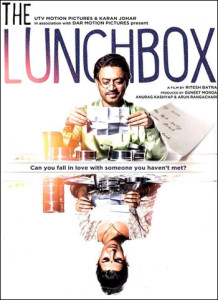




Comentários